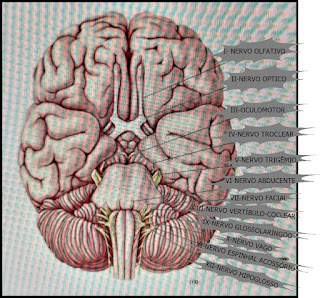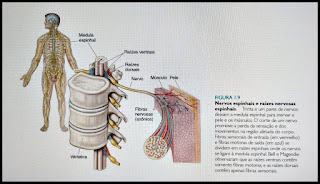O Sistema Nervoso se divide em Sistema Nervoso Central e Sistema Nervoso Periférico, conforme pode ser visto a seguir:
SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC)
SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC)
- São partes do Sistema Nervoso envolvidas por ossos: ENCÉFALO e MEDULA ESPINHAL.
O ENCÉFALO:
- Se localiza inteiramente no crânio
- Possui três partes: o CÉREBRO, o CEREBELO e o TRONCO ENCEFÁLICO.
- CÉREBRO: porção mais larga do encéfalo; possui dois hemisférios cerebrais: hemisfério cerebral direito, responsável pelas sensações e controle dos movimentos do lado esquerdo; hemisfério cerebral esquerdo, responsável pelas sensações e movimentos do lado direito do corpo.
- CEREBELO: porção menor do encéfalo, localizada atrás do cérebro; considerado um centro de controle do movimento e possui extensivas conexões com o cérebro e a medula espinhal; o lado esquerdo do cerebelo é envolvido pelos movimentos do lado esquerdo do corpo; o lado direito do cerebelo é envolvido com os movimentos do lado direito do corpo.
- TRONCO ENCEFÁLICO: talo por onde os hemisférios cerebrais e o cerebelo se originam. Conjunto complexo de fibras e células, que envia informações do cérebro à medula espinhal e do cerebelo ao cérebro. Regula as funções vitais, como respiração, consciência e controle de temperatura. Danos causados nessa regi~]ao significa morte rápida.
MEDULA ESPINHAL:
- Na coluna vertebral óssea e é colada no tronco encefálico;
- Maior condutor de informações da pele, das articulações e dos músculos ao encéfalo e do encéfalo para a pele, articulações e músculos;
- Uma transsecção(corte) da medula espinhal resulta em anestesia, falta de sensibilidade na pele e paralisia muscular nos membros inferiores.
- Se comunica com o corpo por meio dos nervos espinhais (emergem da medula espinhal dos espaços entre cada vértebra da coluna vertebral) , que forma parte do sistema nervoso periférico.
- Cada nervo espinhal está associado à medula espinhal por meio da raiz dorsal (que contém axônios que trazem informações até a medula espinhal, como a sinalizar a entrada acidental de algo um prego em seu pé) e da raiz ventral ( que transportam informações que saem fora da medula espinhal, como o músculo que retira seu pé em resposta à dor causada por um percevejo)
SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO (SNP)
- a todas as partes do Sistema Nervoso, exceto o encéfalo e a medula espinhal.
- Se divide em duas partes:
- SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO SOMÁTICO
- Constitui-se de todos os nervos espinhais que inervam a pele, as articulações e os músculos que estão sob controle voluntário.
- Axônios motores somáticos comandam a contração muscular e têm origem nos neurônios motores da medula espinhal ventral.
- Os somas celulares dos neurônios motores situam-se dentro do SNC, porém seus axônios estão predominantemente no SNP.
- Axônios sensoriais somáticos que inervam e coletam informação da pele, dos músculos e das articulações, entram na medula espinhal pelas raízes dorsais.
- Os corpos desses neurônios localizam-se fora da medula espinhal em agrupamentos chamados gânglios da raiz dorsal. Existe um gânglio da raiz dorsal para cada nervo espinhal
- SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO VISCERAL
- chamado de involuntário, autônomo* ou sistema nervoso vegetativo (SNV), é formado por neurônios que inervam órgãos internos, vasos sanguíneos e glândulas.
- Os axônios sensoriais viscerais carreiam informação sobre funções viscerais ao SNC, como, pressão e conteúdo de oxigênio do sangue arterial.
- As fibras viscerais motoras comandam a contração e o relaxamento dos músculos lisos que formam as paredes dos intestinos e dos vasos sanguíneos, a freqüência da contração do músculo cardíaco e a função secretora de várias glândulas. Por exemplo, o SNP vegetativo controla a pressão sanguínea pela regulação da freqüência cardíaca e do diâmetro dos vasos sanguíneos.
NERVOS CRANIANOS
- Existem 12 pares de nervos cranianos que se originam no tronco encefálico e inervam principalmente a cabeça.
- Alguns dos nervos cranianos formam parte do SNC, outros formam parte do SNP somático, e ainda outros formam parte do SNP visceral.
- Muitos dos nervos cranianos contêm uma mistura complexa de axônios que realizam várias funções.
- Os nervos cranianos e suas funções estão resumidas no apêndice do capítulo.
- Os primeiros dois “nervos” são, na verdade, parte do SNC e estão envolvidos com o olfato e a visão. Os demais são semelhantes aos nervos espinhais, uma vez que contêm axônios do SNP. Como mostra a ilustração, no entanto, um único nervo possui, às vezes, fibras com diferentes funções.
- O conhecimento dos nervos e suas diversas funções são de grande valor para ajudar no diagnóstico de diferentes distúrbios neurológicos.
- É importante salientar que os nervos cranianos estão associados aos núcleos de nervos cranianos no mesencéfalo, na ponte e no bulbo. Exemplos disso são os núcleos coclear e vestibular, que recebem informação do nervo VIII.
I. Nervo Olfatório
- Tipo de Axônio: Sensorial especial
- Função mais importante: Olfato
II. Óptico
- Tipo de Axônio: Sensorial especial
- Função mais importante: Visão
III. Oculomotor
- Tipo de Axônio: Somático motor
- Funções mais importantes: Movimentos dos olhos e das pálpebras
- Tipo de Axônio: Visceral motor
- Função mais importante: Controle parassimpático do tamanho da pupila
IV. Troclear
- Tipo de Axônio: Somático motor
- Função mais importante: Movimentos do olho
V. Trigêmeo
- Tipo de Axônio: Somático sensorial
- Função mais importante: Sensação do tato na face
- Tipo de Axônio: Somático motor
- Função mais importante: Movimentos dos músculos da mastigação
VI. Abducente
- Tipo de Axônio: Somático motor
- Função mais importante: Movimentos do olho
VII. Facial
- Tipo de Axônio: Somático sensorial
- Função mais importante: Movimentos dos músculos da expressão facial
- Tipo de Axônio: Sensorial especial
- Função mais importante: Sensação da gustação nos 2/3 anteriores da língua
VIII. Vestíbulo-Coclear
- Tipo de Axônio: Sensorial especial
- Função mais importante: Audição e equilíbrio
IX. Glossofaríngeo
- Tipo de Axônio: Somático motor
- Função mais importante: Movimento dos músculos da garganta (orofaringe)
- Tipo de Axônio: Visceral motor
- Função mais importante: Controle parassimpático das glândulas salivares
- Tipo de Axônio: Sensorial especial
- Função mais importante: Sensação da gustação no 1/3 posterior da língua
- Tipo de Axônio: Sensorial visceral
- Função mais importante: Detecção de alterações na pressão sanguínea na aorta
X. Vago
- Tipo de Axônio: visceral motor
- Função mais importante: Controle parassimpático do coração, dos pulmões e dos órgãos abdominais
- Tipo de Axônio: Sensorial visceral
- Função mais importante: Nocicepção associada às vísceras Somático motor Movimento dos músculos da garganta (orofaringe)
XI. Acessório
- Tipo de Axônio: Somático motor
- Função mais importante: Movimento dos músculos da garganta e do pescoço
XII. Hipoglosso